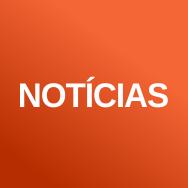Institucional
61 anos do golpe militar no Brasil: democracia resiste, mas sempre haverá riscos, analisam pesquisadores da UNILA
O dia 31 de março de 1964 será sempre lembrado como a data em que iniciou-se o golpe militar no Brasil, cujo regime ditatorial perdurou por 21 anos. Mas, mesmo após 40 anos da redemocratização, o assunto ainda segue relevante e atual, especialmente num contexto em que um ex-presidente da República torna-se réu por uma tentativa de golpe, ocorrida há pouco mais de dois anos.
E o tema ganhou ainda mais evidência com a recente vitória do filme "Ainda Estou Aqui" como Melhor Filme Internacional no Oscar. O longa retrata a vida da família Paiva, após a captura do ex-deputado Rubens Paiva pelos militares. Para que a história não se repita, pesquisadores afirmam: é preciso manter a memória da ditadura viva, corrigir distorções de informação e principalmente fortalecer a consciência democrática na população.

Para o professor Clécio Ferreira Mendes, é complexo afirmar que se vive uma “democracia plena” no Brasil. “O nosso grande medo não é necessariamente a perda da estrutura democrática. Mas a nossa grande preocupação hoje é a ascensão da extrema-direita, que está se dando em vários países do mundo, e que coloca a democracia em risco. Não é só aqui no Brasil, a gente vive uma onda internacional desse processo”, aponta.
Mendes pontua que a tentativa de golpe no dia 8 de janeiro de 2023 ocorreu num cenário diferente do de 1964. “Um golpe de Estado contra uma estrutura democrática, contra o Estado Democrático de Direito, acontece dentro de uma conjuntura mais complexa. Não basta a vontade de uma parte, como foi no dia 8 de janeiro. Em 1964, havia uma ideia de perseguição, da busca de uma segurança nacional, de uma chamada ‘doutrina de segurança nacional anticomunista’”, contextualiza.
Além disso, outra diferença, para o pesquisador, é que na instauração do regime militar em 1964 havia o apoio internacional. “Ali nós estávamos no contexto da Guerra Fria, e com apoio e articulação dos Estados Unidos”, relembra. Ele acrescenta que também não havia, em 2023, apoio massivo nas ruas do Brasil. “Teve um pequeno grupo, mas quem defende a democracia brasileira é um grupo muito maior do que os que apoiaram o 8 de janeiro”, acrescenta.
Memória e anistia
Um fator importante a ser considerado é a anistia dada aos envolvidos no golpe de 1964. “No caso do Brasil, não houve nenhuma condenação. Então a gente tem uma memória sobre a ditadura ainda em disputa. Como não existiu a condenação, não existiu o julgamento. Se não existiu o julgamento, não houve a polemização, não houve a problematização, não houve a reflexão. A gente fez a transição para a democracia sem refletir socialmente sobre o que foi a ditadura”, pondera.
Como exemplo contrário, o professor cita o caso da Argentina, onde os julgamentos foram transmitidos e gravados. “Quando há uma mobilização social para acompanhar aquele processo de julgamento e condenação, torna-se um debate popular, cotidiano. E a gente não trouxe isso para o debate cotidiano [no Brasil]”. Para ele, “quando se anistiou os militares [no Brasil], naquele momento colocou-se uma pedra sobre o assunto e não se tocou mais nisso. Na conjuntura atual, a gente não pode aprovar a anistia de forma alguma, porque se anistiar, não haverá o debate público sobre o crime, sobre a tentativa de golpe”.
Educação e mobilização social
Questionado sobre qual seria o caminho para manter viva a memória dos crimes da ditadura e evitar que a história se repita, o professor Clécio Ferreira Mendes apontou que, além da educação, é preciso trabalhar a politização do cotidiano. “Precisamos quebrar alguns dogmas, alguns estigmas. Política se discute, sim. Não em termos de candidato A ou B, mas principalmente a partir de uma perspectiva de classe. É preciso olhar para a política a partir dessa dimensão”, salienta.
Além disso, para ele, é preciso se organizar politicamente e fortalecer os movimentos sociais, sem se esquecer do papel da educação. “Nesse novo contexto, a gente tem a chance de fazer isso, porque é um contexto que está exigindo de nós justamente a radicalização do debate. Hoje é o dia de assumir uma posição. Acho que aí a gente consegue abrir um horizonte”, enfatiza.
A democracia em constante construção
Para o professor Paulo Renato da Silva, não existe um modelo democrático único e acabado. “A democracia, por excelência, é um regime de insatisfação. Por isso, uma democracia plena nunca existiu, talvez nunca vá existir. Porque ela é histórica. Ela vai se transformando à medida que as necessidades, as demandas vão mudando e vão surgindo. Muitas vezes, as pessoas manifestam descontentamento com a democracia como se ela fosse imperfeita, não se dando conta que é justamente por estar em uma democracia que a gente pode perceber e apontar o que está faltando nela”, frisa.
Um novo golpe é possível?
Silva ressalta que a democracia é um valor importante para parte expressiva da sociedade brasileira e latino-americana. “Mas eu também acho importante a gente não generalizar a sociedade e pensar que o que a gente vive é um campo de disputa. A gente sempre teve a Argentina, por exemplo, como um modelo de sociedade que encarou o passado autoritário, que levou para o banco dos réus vários acusados de violações aos direitos humanos, um país que tem diversos centros de memória, museus, e, de repente, nós nos deparamos com a Argentina com posturas muito revisionistas, inclusive negacionistas na sociedade e no governo atual”, cita.
Portanto, para Silva, “lembrar o passado autoritário, como os argentinos fizeram por vários anos, não livra a democracia de perigos, mas é muito importante como uma espécie de escudo”.
Ditadura além da política
É preciso ponderar, na visão do pesquisador, que o período ditatorial brasileiro não foi marcado apenas pela violência contra opositores políticos, mas também por extremas e profundas transformações na sociedade e no modo de vida das pessoas comuns. “Foram anos de violência política, de desaparecimentos, de cerceamento de vários direitos. Mas foi além de uma questão política tradicional. Foram anos, por exemplo, de uma inflação altíssima. De endividamento. De aumento da violência urbana, da violência no campo. Não é casual que, por exemplo, nos anos 70, 80, surgiram os chamados Esquadrões da Morte. Muitos deles formados por policiais ou outras pessoas que se achavam no direito de fazer justiça com as próprias mãos. Foram anos de aumento dos desequilíbrios regionais no Brasil. De intensas migrações internas”, relembra.
Silva observa que a Comissão da Verdade, criada pela ex-presidenta Dilma Rousseff, ampliou o conceito de “vítimas da ditadura”, abrangendo também, por exemplo, as grandes obras que afetaram populações indígenas, devastaram o meio ambiente, entre outros danos. “Eu acho que o grande desafio e o caminho é exatamente este: a gente precisa ampliar a concepção de quem foi vítima da ditadura – e digo mais, eu conjugo no presente, de quem ainda é vítima das heranças da ditadura”.
Para o historiador, essas marcas ainda estão muito presentes no cotidiano: “na violência policial que recai particularmente sobre periferias, sobre grupos como os jovens negros, nas terras indígenas que continuam sendo invadidas pela grande propriedade”, elenca.
Consciência e autocrítica
O professor destaca que, em que pese o pretexto que muitas pessoas utilizam de que “não sabiam” do que ocorria durante a ditadura, este argumento não é necessariamente verdadeiro. “As sociedades, quando confrontadas com as violações dos direitos humanos, falam o ‘não-sabia’ como uma espécie quase de autodefesa, como uma espécie de negar cumplicidade, de não se sentir conivente”, pontua.
Por isso, faz-se tão importante sempre rememorar a história, debater e analisar todos os fatos, para que, a partir da criação de uma consciência crítica, a sociedade possa estar mais atenta e preparada para lidar com possíveis ameaças à democracia.
Foto: Deslocamentos militares em frente ao Ministério do Exército, no Rio de Janeiro em 02 de abril de 1964 (Arquivo Nacional / Correio da Manhã)